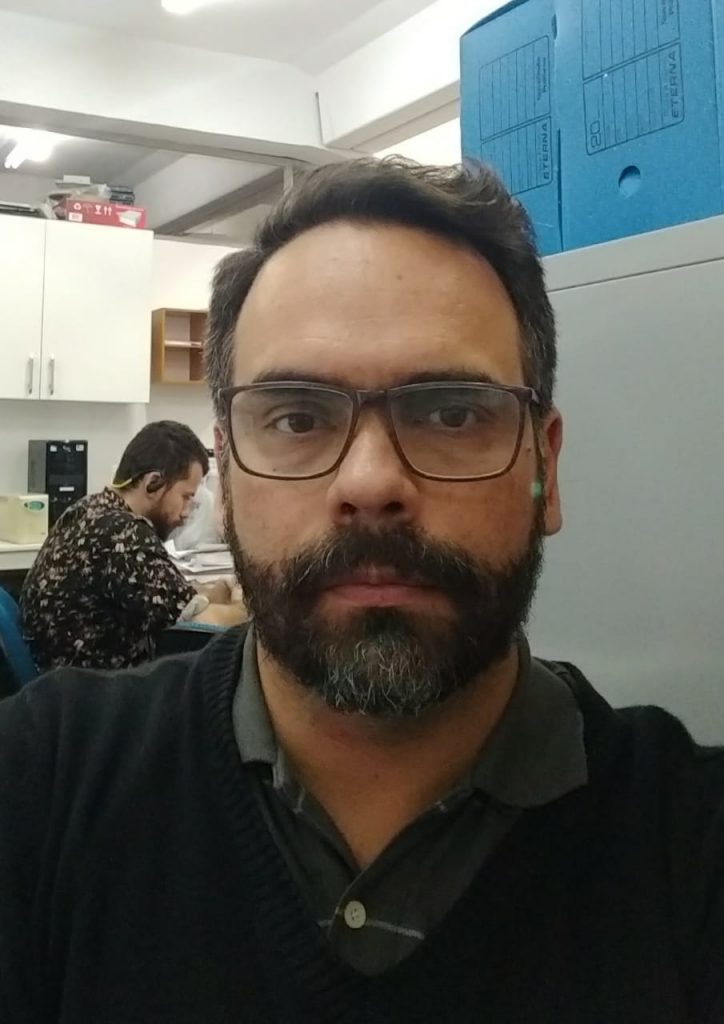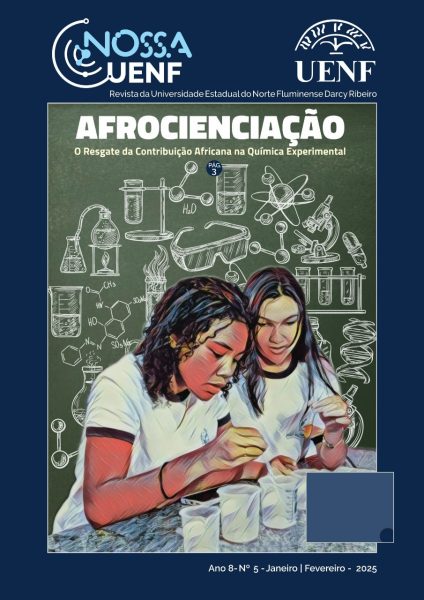Uma história que foi apagada, mas que vem sendo resgatada pelo mestrando em Ciências Naturais da UENF Thúlio Lauzindo Finamor Pereira: a contribuição africana na química experimental. Ao realizar um estudo de caso no CIEP Doutor Jair de Siqueira Bittencourt, em Itaperuna, Thúlio vem conseguindo não só desmistificar o tema entre alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio como também propor ações pedagógicas para sanar o problema.
Intitulada “Afrocienciação — contribuição africana e afro-brasileira envolvendo os compostos férricos na química experimental na educação básica”, a dissertação de mestrado tem a orientação do professor Fernando Luna, do Laboratório de Ciências Químicas da UENF (LCQUI) e será defendida em março de 2025.
Legislação estabelece inserção da história africana nos currículos de todas as disciplinas
A pesquisa está alinhada ao que preconizam as Leis 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. De acordo com a legislação, a contribuição africana para a formação da cultura brasileira deve estar presente no currículo escolar como um todo, ou seja, o tema deve estar inserido em todas as disciplinas.
Na prática, porém, não é o que vem acontecendo, ficando o tema restrito quase sempre à área de ciências humanas. Isso se deve, em grande medida, à falta de material didático para que os professores trabalhem o assunto nas demais áreas do conhecimento.
— A lei diz que a história afro-brasileira, e também indígena, deve ser incluída em todas as disciplinas. Mas isso é uma complicação muito grande porque falta material didático. Precisa haver mais pesquisas sobre a contribuição africana nas demais áreas. Para quem dá aula de física e química é muito complicado — diz o professor Fernando Luna.
Extração do ferro era realizada na África há 3 mil anos
De acordo com Thúlio, há cerca de 3 mil anos, na África Central e Subsaariana, já havia o conhecimento prático de como extrair o ferro metálico do minério de ferro. Este conhecimento — trazido por africanos escravizados para o Brasil Colônia — não aparece, no entanto, nos livros de história.
— Eles usavam fornos de baixo custo, chamados de fornos de tamisa. Para extrair o ferro metálico da natureza, eles utilizavam carvão ativado. Assim podiam fazer ferramentas, armas e outros utensílios — conta o mestrando, que é formado em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Itaperuna (RJ), sua cidade natal.
Em sua pesquisa de mestrado, Thúlio propõe não só levar aos alunos a questão histórica sobre a produção do ferro metálico pelos africanos, como desenvolver práticas pedagógicas que possam ajudar os professores de Química a trabalhar com a questão dentro da sala de aula.
— As discussões são importantes, mas é preciso sair um pouco da teoria e ir para a prática, pensar em formas de minimizar o problema, reverter esse quadro dentro da educação. É importante fazer a crítica, levantar a questão, mas também poder dizer: olha, aqui tem uma possibilidade educacional para os professores da educação básica hoje, se quiserem cumprir com a legislação — afirma.

Estudo de caso foi realizado em CIEP de Itaperuna
Para desenvolver a pesquisa, Thúlio optou por realizar um estudo de caso dentro de uma escola, no ciclo básico. A escola escolhida foi o CIEP Doutor Jair de Siqueira Bittencourt, em Itaperuna, onde atuou em parceria com a professora de Química Vívian Vasques, que também fez mestrado na UENF.
— A parceria foi fundamental, porque ela também é sensível a estas questões. Passamos a dar aula juntos, sem que os alunos tivessem ideia do que eu estava fazendo ali. Eu precisava desse tempo de convivência com os alunos, senão a pesquisa não daria certo — conta Thúlio, que atuou junto a seis turmas, sendo cinco do ensino médio comum e uma do curso normal, totalizando 183 alunos.
Realizado de abril a novembro do ano passado, o estudo de caso foi composto de várias sequências didáticas. Inicialmente, Thúlio realizou uma observação participante, com o objetivo de criar uma proximidade maior com os alunos, sem que eles soubessem os reais motivos da sua presença na escola.
A atividade desenvolvida nesta etapa buscou identificar qual a percepção que os alunos tinham da figura do cientista. Para tanto, Thúlio pediu que desenhassem cientistas e informassem três características essenciais: idade, raça/etnia/cor e o gênero. Foram recolhidos 207 desenhos, dos quais 125 retratavam homens brancos.
Na segunda sequência didática, quando os alunos já sabiam o que Thúlio estava fazendo na escola, a prática teve por objetivo desmistificar a imagem do cientista. Foi feita uma brincadeira, na qual eram mostradas imagens de cientistas reais e os alunos tinham que dizer “fala sério” se discordassem e “com certeza” se concordassem.
Atividades pedagógicas buscaram desconstruir preconceitos
A prática revelou preconceitos estruturais em relação à participação de pessoas negras na ciência. De uma maneira geral, os alunos demonstraram, mais uma vez, a crença de que cientistas são homens brancos trabalhando em laboratórios. As falas mais preconceituosas, segundo Thúlio, estavam ligadas às cientistas negras.
— Ao final da sequência, eu revelei que todos eram cientistas e fizemos uma discussão das respostas. Fui desconstruindo muitas ideias errôneas que eles tinham. Chamei a atenção para o fato de a maioria deles serem pardos ou negros, mas não se verem como cientistas, e falei que eles também podem chegar lá — conta.
Thúlio também levou os alunos a analisarem criticamente imagens de negros em livros de história, nos quais aparecem em posições subalternas, inferiorizados, sofrendo violência ou sendo humilhados. Em contraposição, mostrou imagens que trazem negros trabalhando na fundição do ferro, que soaram como novidade para os alunos.
— Fiz com que eles refletissem sobre essa imagem ruim dos negros que os livros didáticos mostram. Por que sempre o negro está no lugar de vítima? Por que só aparece a parte ruim, do sofrimento? Por que os negros não aparecem como protagonistas do conhecimento? — conta.
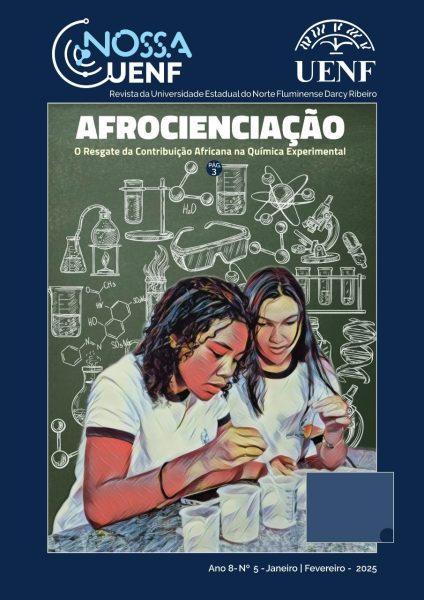
Pesquisa mostra importância da química experimental na escola
A terceira etapa pedagógica foi a fase da química experimental, com a revitalização de um laboratório e a realização de experimentos utilizando o ferro. Na opinião de Thúlio, é indispensável que a Química seja ensinada de forma experimental, pois se trata de um conhecimento abstrato, de difícil compreensão, principalmente para adolescentes.
— Eu acredito numa Química alinhada com o cotidiano, para que possa fazer sentido para o aluno. É preciso conquistar os alunos, afetar suas paixões. Na educação básica, o carro-chefe tem que ser aguçar a curiosidade do aluno. É importante que eles vejam a química acontecendo diante de seus olhos. Então eu queria trazer esse olhar experimental — afirma.
Segundo Thúlio, na escola já havia um projeto pra fazer um laboratório, o qual ele ajudou a que saísse do papel.
— Eu poderia fazer os experimentos na sala de aula, mas não seria a mesma coisa. Fizemos um laboratório incrível, e agora os alunos negros podem se sentir dentro do laboratório como se fossem cientistas. Quero mostrar a eles que é possível — afirma.
Os experimentos utilizaram materiais do cotidiano para mostrar a oxidação do ferro. Primeiro, foi feito experimento com palha de aço, refrigerante de limão, vinagre e água destilada. Depois, ele utilizou prego e água com sabão. Ao mesmo tempo, Thúlio contextualizou os experimentos apresentando toda a questão da contribuição africana na química do ferro.
A última parte do estudo de caso foi a realização de um grupo focal, com discussões entre um grupo de alunos selecionados dentre os que mais demonstraram identificação com o projeto. O objetivo foi verificar, na visão deles, como foi a experiência com o projeto, qual o resultado, um feedback.
Pesquisa busca inserção de alunos negros no ensino superior
Thúlio explica que optou por alunos do primeiro ano do ensino médio porque é nesta etapa que eles têm o primeiro contato com a Química. Abordando a questão sob uma perspectiva decolonial (pensamento crítico que se sobrepõe à visão eurocêntrica), a ideia era tentar desconstruir os fortes preconceitos que os alunos têm em relação à contribuição africana na área científica.
— Muitos artigos tratam da escassez de alunos negros nas áreas de ciências da natureza. Isso ocorre porque, durante a educação básica, não foi colocada essa figura para eles. Eles não se identificam com o universo da pesquisa em laboratório, acham que é coisa de pessoas brancas. É importante mudar isso, para que eles saibam que, se quiserem, têm todo o direito também de seguir nessas áreas — diz.
Resgate da história africana
Thúlio observa que, de uma maneira geral, os livros didáticos propagam o conhecimento científico eurocêntrico. Isto porque sempre foi difundida a ideia de que a produção científica só ocorria nas regiões centrais, como Europa e América.
— Se a África tinha um conhecimento que despontava, acreditava-se que alguém levou este conhecimento para lá. Houve uma massa de manobra, um apagamento dessa parte da história da ciência africana. Então a verdadeira história é difícil de ser contada — afirma.
O professor Fernando Luna ressalta que os africanos escravizados possuíam conhecimentos que eram aproveitados no Brasil colonial. Quando aqui chegavam eram direcionados para o trabalho que já sabiam fazer — agricultura, marcenaria, cozinha etc. Segundo ele, todo o trabalho de mineração era feito por africanos que detinham esse conhecimento, uma vez que na África já havia uma tradição nesta área.
— Eles tinham cultura, mas ela foi aniquilada. Havia várias formas de se fazer isso. Por exemplo, não gostavam de colocar escravos de uma mesma região em uma mesma fazenda. Havia diferentes portos na África e uma diversidade muito grande de culturas — afirma.
(Veja essa e outras reportagens na Revista NOSSA UENF AQUI).